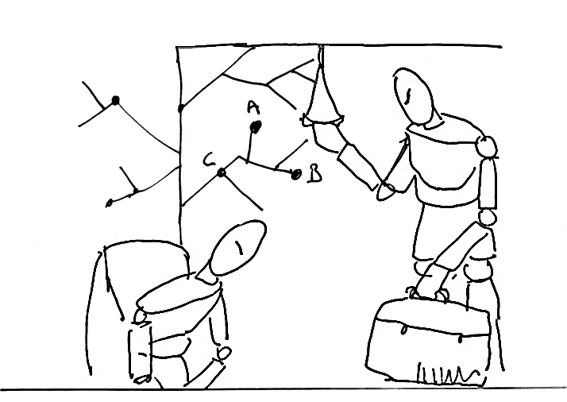Há uma boa dúzia de anos estava eu deprimido, a precisar de arejar a cabeça. Dar-me-ia algum alento, pensei, dar uma escapadinha ao Frutalmeidas, na hora de almoço, para me apaziguar com um sumo natural e um pastel de massa tenra.
Porém não foi bem como imaginei. O delírio paradisíaco de beber uma pinha colada no centro de Lisboa desvaneceu-se quando cheguei ao estabelecimento, após meia hora de estacionamento. O Frutalmeidas é que estava à pinha e cheguei a suar em bica, com a camisa colada às costas. Foi mais meia hora de espera. Nem sei porque não desisti, embora tenha passado o tempo todo a digladiar-me com o ímpeto de dar meia volta e mandar tudo à fava. Por fim sentei-me, acotovelando-me no bafio do espaço atordoado pela azáfama de vozes que impeliam perigosamente em todas as direcções. Atrás de mim os gritos insolentes de um rapazola mal-educado maceravam-me os tímpanos. Mas os pais nada faziam para controlar a fera, que saltava na cadeira e a empurrava contra a minha, quase que de propósito para me desafiar perante a impassível indolência dos pais.
Já não havia pastel de massa tenra. Havia sim uma grande vontade de me ir embora. De nem sequer ter vindo. O miúdo exibia agora um vasto repertório de arrotos, e os pais riam-se. Os pais, achavam graça. Ao mesmo tempo os meus olhos esguios tentavam escapar ao olhar idoso do homem sentado à minha frente, preso a todos os meus movimentos. Serviram-me a mousse de abacate no preciso instante em que reparei que aquele meu vizinho de mesa esgravatava o nariz com o mesmo guardanapo onde limpava a boca. E claro que, qualquer apetite que eu ainda tivesse, cessou por completo com o aspecto esverdeado da mousse. Por fim pedi um café que estava queimado e frio. E paguei, pensando em mil e uma formas de pedir o livro de reclamações e ainda de dar um puxão de orelhas àqueles pais. Mas nada disse, nada fiz, enquanto este pensamento me acompanhou os passos pusilânimes até ao carro presenteado com uma multa da Emel. Um pensamento que, de resto, me acompanhou durante todo o dia de trabalho. “Mas que futuro este?” Pensava eu. “Estaremos nós entregues a futuros homens sem a mínima educação cívica?”, “Estamos a gerar monstros.
A culpa é dos pais, são eles que não têm educação, nem civismo, nem valores”. E se estava deprimido, mais deprimido fiquei. Porém tentei não me afundar completamente e decidi nessa noite, após um dia de trabalho, fazer um programa diferente para além do caminho do Campo Grande a Setúbal através da ponte Vasco da Gama, um dos poucos trajectos que sabia fazer em Lisboa. Hoje tinha resolvido ir ao cinema no Centro Vasco da Gama. Não deveria ser muito diferente do caminho para a Ponte. Apesar de deprimido sentia-me confiante e, também, já nada tinha a perder. Decidi ir ao cinema. Dirigi-me ao Centro Vasco da Gama. Segui todas as setas e indicações.
Mas por que raio fui parar a Sta Iria?
A verdade é que dei por mim na auto-estrada do Norte, em pânico, à procura da primeira saída. Saí a 6 km, em Sta Iria, e andei por lá em circuitos desorientados à procura de entrar novamente na auto-estrada. Sem sucesso, entrei num café para pedir novas indicações. Tomei antes um café, não porque me apetecesse, aliás, ainda nem tinha jantado, mas para conseguir arranjar coragem e fazer a pergunta no timing certo, sem dar muita “bandeira” nem fazer uma grande figura de “totó”. Lá me indicaram. E lá voltei para Lisboa. “Desisto, vou para a ponte Vasco da Gama”, pensei. Mas depois insurgi-me “Mas que raio, não podes desistir assim tão facilmente. Hoje é sexta-feira à noite, é dia de jantar fora, de ir ao cinema!”.
E esta pequena crónica é isso mesmo, uma lição de como nunca se deve desistir. Foi assim que me dirigi novamente para o Centro Vasco da Gama. E foi assim que fui novamente parar a Sta Iria.
Onde não voltei a pedir indicações no mesmo café por vergonha. E depois de voltas e voltas lá me pus novamente no caminho para Lisboa, onde apanhei logo que pude o desvio para a ponte Vasco da Gama. Durante o caminho tentei sublimar a frustração com um pensamento religioso: “Será Sta Iria a minha Santa Padroeira? Estaria ela a querer comunicar-me algo?”. Estava decidido, nessa noite investigaria a fundo sobre essa Santa, mas tudo se esfumou e esqueceu numa sandes do Pans & Company que comi alarvemente na estação de serviço. E esqueci a Santa. O que eu tinha era apenas fome.