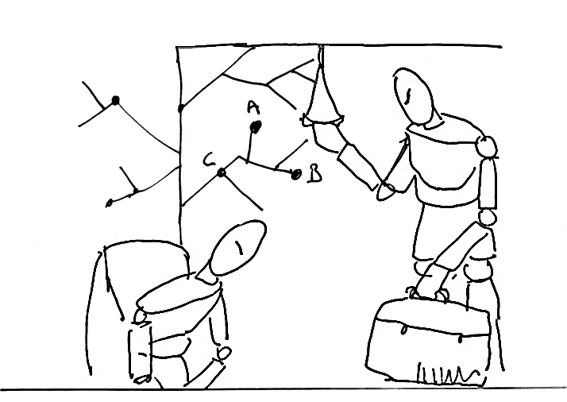Contrariamente ao Prof. Duarte havia a professora de inglês, Clara Zagalo, que chegou com uma ideia muito inovadora mas que se veio a revelar um fracasso.
Era a primeira aula de inglês a que íamos assistir na vida, e eu – e aposto que o Figueirinha também – tinha estado na véspera a estudar o manual para me averiguar sobre a dificuldade da coisa. Resultado: no dia seguinte eu já trazia o “How do you do?” na ponta da língua.
Mas eis que, logo na primeira aula, a professora chega com esta invenção que nos apanhou incautos. E que ideia iluminada era essa? Como todos se deverão lembrar, a ideia era atribuir nomes ingleses a cada um de nós.
Cheguei ainda a pensar que era para adoptarmos o nosso próprio nome para inglês e por momentos fiquei radiante. Poderia ser o Peter, como o Peter Parker, personagem que vestia o fato de homem-aranha nas bandas-desenhadas. Mas mesmo que fosse o Pedro Inocêncio a adoptar o nome Peter, pensei que poderia ao menos usar o meu segundo nome em inglês, William, em vez do Guilherme, ou mesmo “Ilherme”, como alguns me chamavam. E até poderia ser que pegasse lá na escola. Quem sabe começariam a chamar-me William nos recreios, ou mesmo Willie, ou Bill.
Mas contra todas as minhas conjecturas não era o nosso nome que ia ser adaptado. Era uma lista previamente alinhavada de nomes ingleses que iriam ser sorteados para cada um de nós. Havia nomes sonantes, como James, Steven, ou, lá está, o Peter.
Mas a mim foi-me calhar o Paul.
Que é como quem diz, querias ser o Pedro é? Então toma lá o Paulo. Logo a mim, que não gosto do nome Paulo. Ainda por cima já tínhamos na turma um Paulo (o Paulinho) e não me apetecia nada andar com o nome do Paulinho.
Foi assim a minha primeira aula de inglês, contra as minhas expectativas. Felizmente, na segunda aula, o Zé Manel mostrou também desagrado para com o nome que lhe tinha calhado em rifa e perguntou à turma se alguém queria trocar. Quando reparei que ele era o Jack levantei logo o braço. Não havia comparação entre o Paul e o Jack. Jack era muito melhor do que Paul. Jack, era Jack Nicholson, era Jack the Ripper, era Bomb Jack.
Mas não me lembro se ele quis trocar comigo.
Tal como em muitas outras disciplinas, a “chapa 4” das minhas notas a inglês sempre foi o “Satisfaz Bastante”. Não sei o que é que os professores viam em mim, mas tiravam-me logo a pinta de um aluno de 4. Lá está, chapa 4.
Era como que dissessem “epá, tu satisfazes, mas não muito, apenas bastante”. Sempre fiquei colado a este rótulo do “Satisfaz Bastante”. Eu próprio me convenci disso e disseminei o conceito por todos os cantos da minha vida. Sou, politicamente, um satisfaz-bastantista, um “sim ou sopas”. Na minha profissão, e até na minha vida privada, o satisfaz-bastantismo é traço que me caracteriza. Satisfaço, mas não muito.
Satisfaço q.b., estou na média. Sou mediano, vá. Não desagrado, mas não faço gritar de prazer. Faço as coisas mais ou menos bem feitas. Não muito más. Nunca perfeitas.
Mas um dia A Prof. Clara Zagalo quase fez história na minha ainda tenra carreira de satisfaz-bastantista ao dar-me a nota mais estranha que já recebi.
E a nota foi, sem tirar nem pôr, “Quase excelente”.
Lá está. Quase, sempre o quase. Nunca o “efectivamente”, o “arrebatador”, o “dispo-me já aqui”, o “totalmente”. Sempre satisfiz, mediocremente, “bastante”.
Hoje invejo o Luís Laranjeira, que se juntou à nossa turma no 2º ano do ciclo, trazendo consigo um ligeiro problema do 1º: “Professora o inglês para mim… é chinês”.
Ao menos ele era “sopas”.